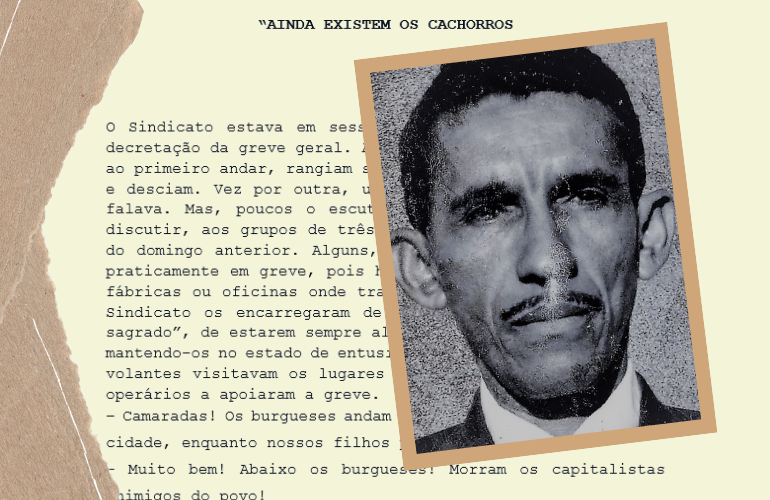Luis Guilherme Pontes Tavares*
Lamento, mas os originais de “A Ladeira da Montanha 63”, do escritor baiano Nelson Gallo (1912-2000), talvez não existam mais. O livreiro João Brandão, dono de sebo na Ruy Barbosa, foi amigo do escritor e ouviu dele, quando conversaram sobre a obra, que ele a destruiria para não enfrentar a ira de China, a proprietária do “63”, famoso prostíbulo localizado nesse número na Ladeira da Montanha. Sendo assim, apenas a família de Nelson Gallo poderia, caso os originais ainda existam, localizá-los e, quiçá, publicá-los.
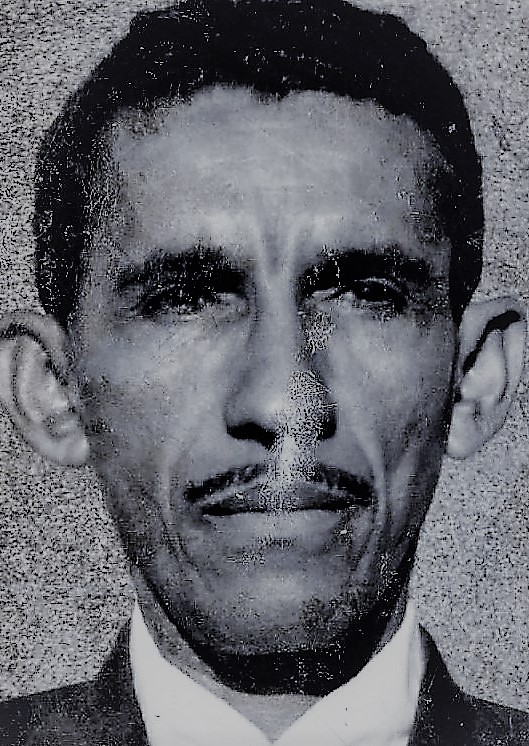
Tomei conhecimento da obra citada quando recebi do escritor Franklin Maxado cópia do cordel Nelson Gallo – Poeta do Povo (Sua vida e suas obras), publicado pelo trovador Rodolfo Coelho Cavalcanti (1919-1987) em 1981. A obra é citada na página 7 do folheto que tem 12 páginas. O tema me seduziu, até porque conheci o “63”, destino lembrado por muitos, mas de que desconheço escritos a respeito. Talvez haja algum texto dos jornalistas Jehová de Carvalho (1930-2006) e Anísio Félix (1937-2007), dois cronistas que nos premiaram com registros da vida noturna soteropolitana.
Recordo-lhes que Nelson Gallo foi jornalista que atuou no Jornal da Bahia e n’A Tarde entre as décadas de 1950 e 1980. Escreveu vários livros e trabalhou na Base Aérea, tendo recebido a tarefa de administrar o aeroporto de Ilhéus, ocasião em que escreveu livros a respeito da terra do cacau e foi admitido como membro da confraria literária grapiúna. O conheci na década de 1970, quando iniciei a carreira jornalística, mas não tive qualquer aproximação. A pandemia – como explicar isto? – nos aproximou e tenho escrito textos sobre ele e publicado no site da ABI e no Facebook.
Impressiona o silêncio da família a respeito de Nelson Gallo, autor que contribuiu com, dentre outras, obras afins com o turismo baiano. Compartilho com os leitores, em seguida, o conto “Ainda existem os cachorros” (abaixo, o texto completo), premiado e publicado pela revista paulista A Cigarra na edição e novembro de 1956 (p. 52-55, 62 e 142), com ilustração de Ezio, de quem não obtive informações. Poupo-lhes de qualquer adjetivação a respeito do texto, mas acentuo que o autor, naquele ano, alcançara 44 anos de idade e somava 15 filhos; Juscelino Kubitscheck (1902-1976) iniciava a profícua tarefa de presidir o Brasil e, na Bahia, Antônio Balbino (1912-1992) governava.
Acrescento que contei com o valioso auxílio do jornalista Jorge Ramos, meu colega na diretoria da ABI, para obter o PDF das páginas de A Cigarra na hemeroteca da Fundação Biblioteca Nacional. Em seguida procedi a digitação em Word com o auxílio de minha companheira Ronrom [Romilda, esposa do autor] Tavares.
Vamos ao conto.
“AINDA EXISTEM OS CACHORROS
Conto de Nelson Gallo
Ilustração de Ezio
O Sindicato estava em sessão permanente.E esperava-se a decretação da greve geral. As velhas escadas, que conduziam ao primeiro andar, rangiam sob os pés dos homens que subiam e desciam. Vez por outra, um operário ocupava a tribuna e falava. Mas, poucos o escutavam, ocupados que estavam em discutir, aos grupos de três a quatro, os jogos de futebol do domingo anterior. Alguns, os mais espertos, já estavam praticamente em greve, pois havia dois dias que não iam às fábricas ou oficinas onde trabalhavam. A nova diretoria do Sindicato encarregaram-os de não deixarem morrer o “fogo sagrado”, de estarem sempre ali, exortando os companheiros, mantendo-os no estado de entusiasmo sempre crescente. Turmas volantes visitavam os lugares de trabalho, aconselhando os operários a apoiaram a greve.
– Camaradas! Os burgueses andam de automóvel pelas ruas desta cidade, enquanto nossos filhos passam fome…
– Muito bem! Abaixo os burgueses! Morram os capitalistas inimigos do povo!
Palmas, gritos, confusão
– … Enquanto nós e nossos filhos…
– Greve! Greve! Greve!
Aqueles que se encontravam junto às janelas, olhando a rua, ou pelo corredor, voltavam-se e tomavam parte do coro:
– Greve! Greve! Greve!
Os jornais estavam cheios de notícias sobre o andamento das negociações entre empregados e empregadores, a fim de não ser decretada a paralisação do trabalho. A Delegacia do Trabalho apresentara uma proposta de conciliação. Mas a greve anunciada tinha raízes profundas. O aumento de salário era o pretexto. O que se pretendia eram um teste: um balanço das forças que um dia seriam chamadas para execução de um trabalho de maior envergadura. Por isso, fora exigido aquele aumento absurdo, de cem por cento sobre os salários vigentes, um aumento que, todos sabiam, não poderia ser concedido. Os dirigentes do Sindicato não se mostravam dispostos a um acordo em novas bases, mas se mantinham firmes nas suas pretensões, exigindo o aumento em dobro ou a greve. Isso porque tinham recebido ordens – e dinheiro – para deflagrar a greve.
Leonel subiu as escadas sabendo que seus passos o levavam a algo como as “jaula dos leões”, ou pior. Porém nunca mais se consideraria um HOMEM, perderia o respeito de si mesmo, se estivesse ficado comodamente em casa, ou na oficina onde trabalhava.
Deprimido e um tanto amedrontado subiu as escadas. Cumprimentou um conhecido aqui, outro ali… Fez-se silêncio, um silêncio hostil à sua passagem pelo corredor, e ele penetrou no salão destinado às reuniões. Dezenas de olhos fixaram-se na sua pessoa. Era alto, magro, desengonçado. O tipo de trabalhador que aos 42 anos aparenta uma idade indefinida, que pode ser 40 como 60 anos. Roupa parda, surrada. Sapato com solado de pneu, “porta de loja”, “por favor me compre”. Rosto comprido, chupado. Olhos brilhantes, como a refletirem uma alma de lutador.
Dirigiu-se rapidamente a uma das janelas, mas como estivesse ocupada, encostou-se na parede, ao fundo da sala, pretendo mostrar-se o menos possível. Fingiu ignorar todos os olhos que o fitavam, olhando, por sua vez, para os objetos ali no salão: o quadro de avisos à direita, lemos “A união faz a força”, inscrito em letras na parede, a bandeira nacional, que ele, quando assumira a presidência pela primeira vez, fizera questão de desfraldar bem alto, junto ao teto, para presidir todas as reuniões, como o lembrar aos homens que acima das lutas e das paixões existia a pátria imortal; e a mesa da diretoria, tomando quase toda a largura da sala, um armário com livros, cadeiras…
Em seguida, circunvagando os olhos, não encontrou nenhum dos operários que esperava ver. Sabia que muitos faltariam, mas, que nenhum comparecesse, era a suprema derrota, a suprema covardia!
Ali, no meio de tanta gente hostil, ele se sentiu sozinho. Terrivelmente sozinho. Como se estivesse em plena selva, ameaçado por todos os perigos. Sentiu medo; talvez porque não fosse verdadeiro herói, mas apenas um pobre trabalhador ciente da sua imensa força e da sua imensa fraqueza.
Súbito, um sussurro percorreu o salão e muitos dos presentes se precipitaram para as janelas, enquanto outros foram em direção ao corredor.
O medo que Leonel sentia, desapareceu quando o deputado surgiu: sorrindo, cumprimentando, apertando mãos, abraçando. Um misto de nojo e ódio substituiu no coração de Leonel o medo que fugira. Era como se uma cobra venenosa fosse se aproximando…
Mas não foi somente ao deputado que ele abominou. Odiou ainda mais a todos os companheiros que o haviam abandonado. Nunca se cansara de dizer aos homens que não faltasse às reuniões, que pagassem suas mensalidades, prestigiassem o seu sindicato, e se unissem, pois do contrário, um dia seriam esmagados. Mas não foram ouvidos. Nunca sentira tanta vontade de esbofetear alguém, como no dia em Anselmo, seu compadre, lhe dissera: “Então, compadre, você deixou os vermelhos dominarem o nosso sindicato!”
Se Anselmo, que fora seu companheiro de infância e cujo filho ele batizara, lhe dizia isso, que não diria os outros? Esqueciam-se de tudo o que ele lhes dissera para atentarem apenas no fato de serem agora os comunistas, os dirigentes, os “donos” do sindicato.
Se Leonel não os conhecesse todos, a todos de longa data, se não lhes frequentasse as casas e não conhecesse os seus problemas, os seus sofrimentos, as suas necessidades e aspirações, diria que estavam solidários com a nova diretoria, composta de elementos cuja bandeira era a da foice e do martelo. Mas uma palavra os definia: comodistas, alegavam trabalho, preocupação de família, doenças suas e dos filhos, para justificar as faltas às reuniões. Mas iam a festas, campo de futebol, cinemas e passeios, quando não ficavam em casa ouvindo o rádio ou cochilando.
Sombrio, revoltado e amargurado, ele dizia a si mesmo que acontecera no seu sindicato o mesmo que estava acontecendo em todo o mundo: uma guerra contra homens que não queriam lutar. Não porque fossem covardes. Isso não.
Mas porque achavam que a luta era algo de remoto. Como a morte. O fim do mundo. E julgavam não valer a pena se preocuparem “agora” com uma coisa assim tão vaga, indefinida… – “Bem, quando verdadeiramente o momento da luta, lutarei com todas as minhas forças” – diziam – esquecidos de que guerra, havia muito tempo, já os envolvera. Quando os canhões de as metralhadoras começavam a falar e os tanques avançavam, era porque a batalha já estava a findar. Os engenhos de guerra não faziam senão operações de “limpeza do terreno”, do terreno já conquistado pela propaganda e pela sabotagem.
Fora assim na China, Polônia, Hungria, Guatemala… E a mesma coisa estava acontecendo na França, Itália, Índia, Egito, Indonésia, Brasil…
Mas os políticos continuavam não acreditando “nesta história de comunismo” e seguiam aplainando o caminho dos vermelhos e traindo o futuro da pátria a troco de uns tantos votos…
* * *
Leonel fora um dos fundadores daquele sindicato e queria-lhe como a um filho. Desde que perdera a mulher, havia 10 anos, considerava aquelas salas como o seu único lar. Ali escrevia, lia, arrumava, sonhava e, quantas vezes, sozinho, não varrera aquele chão no qual, agora não se sentia seguro.
No começo, os vermelhos até que o tinham ajudado. Essa, aliás, era a técnica: mostravam-se prestimosos, tão bonzinhos!… Depois começavam a fazer pequenas exigências… Se eram atendidos, continuavam trabalhando, aparentemente ajudando.. Mas tiravam imediatamente a máscara se eram repelidos. Ainda se estava para inventar termos pejorativos e palavras de baixo calão que eles não usassem contra os que tinham a coragem de se opor à escravização da alma e do corpo pela Máquina do Estado. Eram uns santos, no princípio, quando ainda se sentiam demasiadamente fracos. Depois começavam a mostrar o rabo e os chifres…
Leonel conhecia-os. Distinguia um vermelho a dez passos de distância. “Pelo cheiro” – Dizia, pilheriando. Conhecia-os, porém, porque lhes conhecia a doutrina, a filosofia.
Quando jovem, também se entusiasmara, lera e relera “O Capital”. Mas lera também a Bíblia. Entre Cristo e Marx, não hesitara. Depois fizera paralelos as arengas de Lenine e Stalin, e os ensinamentos e advertências de Leão XIII e Pio XI. E preferira ficar com a Igreja e a sua consciência, embora lamentando que, nos últimos tempos, os religiosos de todas as religiões se mostrassem excessivamente teóricos e assaz indiferente ao sofrimento dos pobres, acenando-lhes com um paraíso no qual os famintos e oprimidos já não acreditavam muito.
Existiam os que pecavam por omissão – o que era lamentável. E que dizer daqueles religiosos que viviam apenas para o Dinheiro e o Poder, esquecidos, coitados, da parábola do Camelo e da Agulha.
Exatamente igual ao que acontecera em muitos países, onde milhões de habitantes haviam sucumbido às mãos de alguns milhares de fanáticos, assim aquele sindicato, com centenas de associados, se deixara dominar por uma minoria audaz.
Por ocasião da última eleição para escolha da nova diretoria, ele procurara os operários um por um. Nas fábricas, oficinas, até nas suas residências. Sem falar no tempo perdido, gastara dois pares de sapato procurando-os em lugares distantes como Cabula, Caixa d’Água, Corta Braço, Fazenda Grande do Retiro e todas aquelas feias e sórdidas “invasões” que existiam na cidade, os homens o ouviam.
Estimavam e sabiam-no seu amigo. Defensor intransigente dos seus direitos. Mas não o ajudavam. Essa era a tragédia. Nas horas de folga, aqueles que não tinham dinheiro para ir aos bares, cinema, campo de futebol, ficavam a jogar cartas ou dominó com os vizinhos.
Jogavam oito e dez horas seguidas. Mas não tinham tempo para as coisas sérias da vida, como, por exemplo, as reuniões mensais do sindicato.
Muitos anos atrás, Leonel alugara aquele primeiro andar. O prédio era antigo, mas estava localizado em uma das principais ruas da Cidade. Adquirira mesas, cadeiras, armários e até uma máquina de escrever, tudo a prestação. Depois contratara médicos, dentistas, advogados. Fundara uma escola primária e uma biblioteca. Organizara passeios, festas e excursões.
Ensinara aos homens que existem Direitos e Deveres. Trabalhara honestamente e tenazmente. E agora estava ali como intruso, um indesejável. E com medo, o que era imperdoável. Enquanto o homem gordo, de óculos, que deixara o automóvel esperando-o na porta, em baixo…
– Meus amigos – começou a falar o Deputado – Convidado pelo vosso dinâmico presidente, meu amigo particular, não podia faltar ao sagrado dever…
– Canalha! – murmurou Leonel por entre os dentes.
– …em restrito apoio às vossas justas reivindicações…
Leonel conhecia o Deputado. Um “boa vida”. Estudante medíocre, depois de repetir uns tantos anos, saíra, afinal, da Faculdade de Direito. Doutor. Condescendendo em cumprimentar e ouvir (com uma certa impaciência) a ralé, os proletários, pois aquilo estava em moda e se chamada DEMOCRACIA. Durante três anos alisara o asfalto da Rua Chile, cheio de projetos grandiosos, mas sem trabalhar em coisa alguma. A tia, cansada de sustentar aquele malandro, um dia lhe abrira os olhos: que procurasse o que fazer. Então o homenzinho, que desde os tempos de estudante, vivia metido com poetas modernistas, pintores e escritores, todos ardorosos defensores da cultura… russa (o que também era moda naquela Cidade tropical), filiara-se ao PTP, um partido político igualzinho a tantos outros lutando para “salvar” o País. E começara, pelo rádio, pela imprensa e em comícios, a repetir que “o petróleo é nosso”, “abaixo o acordo militar Brasil x Estados Unidos”. Demagogo e oportunista, tornou-se rapidamente o falso líder de milhares de homens sinceros, sofredores, mas ingênuos e ignorantes como criança de peito. E as eleições vinham chegando… O povo estava entusiasmado… Quase tão entusiasmado como nas vésperas dos grandes jogos de futebol, quando gritava histericamente e até brigava para que Sinfrônio atuasse na ponta-direita (ou esquerda). Sinfrônio! UM SUJEITO QUE NINGUÉM CONHECIA, mas do qual o rádio e o imprensa diziam, mil vezes, que era um assombro.
Depois das eleições o Brasil tinha um novo deputado. Um parlamentar que ganhava dinheiro do POVO BRASILEIRO para defender os interesses dos imperialistas russos. A isso, também, se dava o nome de Democracia. Depois viria o Dilúvio… Depois… Depois…
O que importava “agora” era o êxito. Riqueza e Poder.
O deputado prosseguia, fazendo apologia da Rússia, citando, debaixo de aclamações delirantes, os nomes de Stalin, Malencoff, Mao Tse Tung, Luis Carlos Prestes. Lançando o descrédito sobre as forças armadas do Brasil, cujos Generais, Almirante e Brigadeiros, afirmavam, estavam todos vendidos aos americanos.
– … sempre fui um amigo e um defensor intransigente dos trabalhadores, dos pequenos e humildes miseravelmente explorados pelo capitalismo internacional…
Enquanto os gritos de “greve!”, “Abaixo os inimigos do povo!” e os vivas às “democracias populares”. Estrugiam, Leonel, amargurado e revoltado, pensava:
– “Se não lhe cortarem as asas você irá longe. Talvez a Governador do Estado, Vice, ou mesmo o Presidente da República…”
– …que pretendem entregar nosso petróleo…
– O petróleo é nosso! O petróleo é nosso! – começaram os homens a gritar, num tom que parecia adrede preparado.
– … sou pelo aumento dos salários, pelo congelamento dos preços, pelo reatamento das relações diplomática com a União Soviética (palmas e vivas)… pelo direito sagrado de greve… pela legalidade do glorioso Partido Comunista…
Os homens, fanatizados, não rugiam como leões, mas uivavam como lobos. E o salão parecia vir abaixo com os seus gritos. Mas o Deputado, que artista! Estendeu os braços pateticamente implorando silêncio.
Quando os ânimos serenaram, o homem continuou falando, falando de novo… Nada do que ele dizia era novo, original, mas repetido, através os anos por todos os demagogos, por todos os novos e velhos políticos incompetentes que se alimentavam lautamente porque o Povo morria de fome; que subiam… subiam… apenas porque o povo descia cada vez mais.
Agora, era a máscara atirada ao chão, não a verdade inteira, soberana, mas uma meia-verdade!
– Altamente honrado com o mandato que o voto soberano do povo me conferiu, espero continuar a merecer esta mesma confiança de ser eleito para a Câmara Federal, onde melhor poderei defender os interesses dos trabalhadores contra todos os tubarões. Se Deus quiser.
Era estranho que falassem em Deus, a homens que O negavam. Mas aquilo era precisamente a novíssima técnica adotada por todos os comunistas: uma vela a Deus… e três velas ao Diabo.
Cessada as palmas, que não foram tantas como o deputado candidato esperava, Leonel, do fundo da sala, gritou:
– Peço a palavra! – e foi abrindo caminho por entre os homens.
Sussurros de desaprovação, cochichos. “Não pode!” – gritou alguém. Mas ele já se apossara do estrado junto à mesa.
– Não pode! Não pode! – eram muitas, agora as vozes que se ouviam.
Leonel permaneceu de braços cruzados, fitando os homens, sereno, altivo, destemido, e eles se calaram afinal, dispostos a ouvi-lo, plenamente cientes de que tudo que dissesse seria usado para a sua própria condenação. Como em todos os tribunais “populares” o veredicto seria um e único: condenado. Que falasse, que dissesse o que quisesse.
Sempre que dirigia aos homens, ele dizia “meus amigos”, ou “companheiros”, mas como os que agora ali se encontravam não eram nem uma coisa, nem outra, disse apenas “Senhores”, e prosseguiu:
– Em vinte de existência este sindicato sempre esteve à margem da política. Agora, vejo com tristeza que o transformaram em sede de partido, em posto eleitoral.
– Protesto! – gritou o novo presidente.
– Fora! Fora! – gritaram os mais exaltados.
Mas o deputado, sempre sorrindo, mandou-os calar.
E Leonel, que não parava de falar, prosseguia:
– Em um ponto, pelo menos, estou de acordo com o orador que me precedeu:
No fracasso da atual democracia, pelo menos a que praticamos, em resolver os pequenos e grandes problemas que afligem o povo. Mas o fracasso maior da nossa e de outras democracias iguais é tentar deter uma ideia, uma mística que está se transformando em nova e terrível religião, com armas puramente materiais.
Chegamos à triste e paradoxal situação, nós que acreditamos no Espírito, em nos opormos com um fuzil, algumas e violência a homens que também impunham um fuzil, que também usam e abusam da violência, mas animados por um ideal. No dia da vitória, porém, os idealistas sofrerão a amarga desilusão de verem os mercenários, aqueles que lutaram apenas pelo Poder, senhores absolutos da Máquina do Estado, desumana, armada com tanques, canhões, com imensa polícia secreta, campo de concentração e morte, a liberdade totalmente banida da face da terra e a escravização total imperando em pleno Século XX.
– Fascistas!
– Nazistas!
– … porque o mundo do futuro não será a escravização total bolchevista nem a injustiça capitalista, mas a vitória do espírito do trabalho…
– Fora! Fora! Não queremos traidores, fascistas entre nós…
– Morram os inimigos do povo!
– … greve organizada fora das fronteiras de nosso país – continuava Leonel, não se perguntando se os homens, agora, devido ao tumulto ouviam-no ou não – essa greve nada resolveria, como outras tantas nada resolveram. O que precisamos urgentemente é substituir nos altos cargos políticos e administrativos os incapazes, os politiqueiros…
– Fora! Fora! Abaixo os agentes do capitalismo! Morram os traidores…
– Greve! Greve! Greve!
O tumulto agora era indescritível. E os homens avançavam, ameaçadores.
– … infelizes que não querem ouvir outras palavras se não aquelas ditas em russo e chinês…
Empurraram-no do estrado. Com violência. Com ódio. Com esse ódio, terrível, homicida, característico das multidões embrutecidas e fanatizadas.
– …mas um dia chorarão a liberdade perdida… escravizados…
Seu corpo descreveu um círculo, antes de cair em cima das cadeiras e, como de relance, ele percebesse o rosto de Lua cheia do Deputado estendeu seu braço magro, comprido e pum! quebrou-lhe os óculos e amassou-lhe a “fachada”, privando a Câmara Estadual e a Rua Chile do bonito sorriso do homem – como o das propagandas do dentifrício – durante uma semana.
* * *
Que silêncio aquele! Parecia-lhe ter sido enterrado vivo e agora despertasse do túmulo. Mas percebeu uns sons estranhos, como gemidos. Uma coisa fria, tocando-lhe o rosto. Fez um esforço para abrir os olhos, porque o sangue de dois ferimentos na cabeça se lhe tinham coagulado no rosto fechando-lhe as pálpebras. Fez um esforço e conseguiu, depois de duas tentativas inúteis. A princípio, viu um vulto indistinto. Depois percebeu um focinho. Uns olhos tristes e lagrimosos fitando-o. E ouviu os grunhidos; que mais pareciam gemidos.
Era Pega-Rato, o cachorro.
Tempos atrás, Leonel pedira a um dos seus companheiros que lhe arranjassem um gato para acabar com os ratos que existiam em quantidade no velho prédio. E o operário, um dia, aparecera com o cachorro.
– Mas eu pedi um gato.
– Um cachorro é melhor – respondera o homem. – Além de pegar rato ele ainda tomará conta da sede.
– Você já viu cachorro pegar rato?
– Pega, sim, você vai ver.
– Com esse tamanho todo? Os ratos daqui são duas vezes maiores do que ele. Vão é comê-lo .
Assim, por pilhéria, os sócios do sindicato o chamavam de Pirão-de-Rato, Passa-fome e Sindicalizado.
Mas Pega-Rato foi o nome que ficou.
Marrom, como milhares de outros cachorros. Sem orgulho nem preconceito de raça. Filho de um vira-lata qualquer com uma cadela qualquer que o concebera na rua, junto a um tonel de lixo. Agora tinha dois anos de idade. E uns quarenta centímetros de altura; e de comprimento também, sem o rabo, é claro. Quando pequenino sofrera bastante, ganindo pelas salas desertas, nas horas mortas, perseguido pela rataria. Salustiano, o preto velho, carregador, residente num dos quartos do fundo, e que, em troca do aposento, fazia a limpeza das salas ocupadas pelo sindicato, fora que o ajudara a viver. Leonel também nunca se esquecia dele. Levava-lhe sempre um pedaço de carne ou um osso e afagava-o, além de banhá-lo todas as semanas. Umas tantas vezes o levara a passear.
– “Até um cachorro tem direito a algo mais do que apenas um osso e abrigo” – dizia.
Agora o homem estava ali no chão após ter sido esmurrado, pisado, esmagado, e era o cachorro quem chorava o seu sofrimento.
Na cara do irracional lia uma dor e ternura infinitas, como nunca vira no rosto dos homens.
– Me rebentaram todo, os malditos!
Lembrando-se, porém, de que os homens que o tinham assim maltratados eram seres humanos e operários, sofredores como ele, perdoo-lhes. Mas não perdoou o Deputado, o explorador do sofrimento de todos. Comunista-oportunista. Covarde. Um autêntico vermelho do asfalto da Rua Chile.
Sorriu, se se pode sorriso a carta que esboçou, no rosto ferido e sujo de sangue. Sim, ele sorriu, ao se lembrar do “direto” que mandara na “fachada” do pigmeu.
A muito custo conseguiu sentar-se no assoalho. Relanciou a vista pelo salão: a mesa estava de pernas para cima, as cadeiras quebradas, o armário emborcado, na parede, uma mancha azul, como feita por um tinteiro ali jogado, o quadro de avisos desaparecera.
Mas a Bandeira Nacional não fora atingida. Continuava no alto, simbolizando estar acima de todas as lutas, de toda a destruição.
Subitamente Leonel começou a chorar. E chorava, não porque fora espancado, porque estivesse com o braço e duas ou três costelas quebradas, não. Chorava antevendo o dia em que os homens, politizados, fanatizados, imbecilizados e transformados em feras, não respeitariam nem a Bandeira. A Bandeira que dropejava altaneira nos quartéis, nos navios, nos edifícios. Mas que já não vivia no coração de muitos homens nascidos no Brasil. Essa era a suprema tragédia. O caos.
Leonel abraçou o animal, estreitando-o de encontro ao rosto e coração feridos. E assim choraram o Homem e o Cão. O Cão chorando o Homem. O Homem chorando a Pátria.
Depois levantou-se. Caminhou através do corredor, desceu as escadas, apoiando-se aqui e ali. Reprimindo os gemidos. E viu-se na rua, sempre seguido pelo cachorro, pelo pequeno e feio animal que por todos os anos que veriam seria o seu único amigo, companheiro de todas as horas, camarada que nunca haveria de enganá-lo, de traí-lo, e que não fugiria a luta nunca! Porque não era um homem… era apenas um cachorro.”

____

*Jornalista, produtor editorial e professor universitário. É 1º vice-presidente da ABI. [email protected]
Nossas colunas contam com diferentes autores e colaboradores. As opiniões expostas nos textos não necessariamente refletem o posicionamento da Associação Bahiana de Imprensa (ABI).