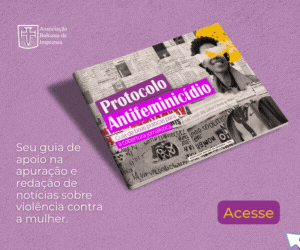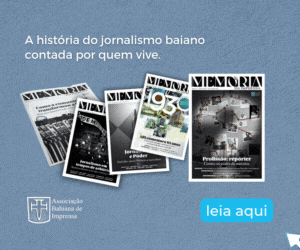Por André Santana*
Na edição especial da revista “Memória da Imprensa” (junho de 2025), sobre “Racismo, Economia e Jornalismo”, trouxemos artigo do jornalista e pesquisador André Santana. Na ocasião, foi publicado um resumo do trabalho, devido às limitações de espaço da edição física, intitulado: “Memórias do Jornalismo Negro: Mídias negras digitais no século XXI”.
Reconhecendo a importância e pertinência do trabalho, oferecemos ao leitor, abaixo, a íntegra do texto, cujo título original é: “Memórias do Jornalismo Negro: Ativismo e resistência epistêmica na história da imprensa brasileira”.
Sueli Carneiro (2005) utilizou o termo “epistemicídio” para descrever a aniquilação dos saberes de povos racializados, sobretudo das populações negras, em benefício da hegemonia eurocêntrica.
Para além da anulação e desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, o epistemicídio implica um processo persistente de produção da indigência cultural: […] pela produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento e pelo rebaixamento da sua capacidade cognitiva; pela carência material e/ou pelo comprometimento da sua
autoestima pelos processos de discriminação correntes no processo educativo (Carneiro, 2005, p. 83).
No campo da comunicação, essa exclusão se evidencia na produção jornalística que deslegitima ou silencia vozes negras, assim como na ausência de referências negras nos currículos de formação. O jornalismo, enquanto forma de mediação simbólica e prática social (Traquina, 2005), é um campo onde se disputa a memória, os sentidos e os lugares de fala. Assim, recontar a história da imprensa negra é parte da luta por reparação histórica, epistêmica e política.
No campo da comunicação, essa exclusão se evidencia na produção jornalística que deslegitima ou silencia vozes negras, assim como na ausência de referências negras nos currículos de formação. O jornalismo, enquanto forma de mediação simbólica e prática social (Traquina, 2005), é um campo onde se disputa a memória, os sentidos e os lugares de fala. Assim, recontar a história da imprensa negra é parte da luta por reparação histórica, epistêmica e política.
Animai-vos povo bahiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade: o tempo em que seremos todos irmãos, tempo em que seremos todos iguais (Boletim Sedicioso, Revolta dos Búzios, Salvador, 1798).
A Revolta dos Búzios, ocorrida na Bahia em 1798, é um marco simbólico da relação entre ativismo negro e comunicação. Os chamados “boletins sediciosos”, afixados em locais estratégicos de Salvador, convocavam o povo a se insurgir contra o Império e a escravidão, propondo a fundação da República Bahiense. Mesmo em um contexto de baixa alfabetização e de proibição da imprensa pela metrópole portuguesa, a palavra escrita foi instrumento de organização política de homens pardos e pretos, livres e libertos, trabalhadores explorados que, por meio dos folhetos, fizeram circular ideias radicais de igualdade e pelo fim da escravidão. O levante teve como “espinha dorsal as estruturas de comunicação”.
Ao longo da história, são muitas as experiências de ativismo negro na imprensa, passando pela presença de jornalistas e intelectuais negros nos jornais, ainda no período da escravidão, na luta abolicionista, como revela a pesquisadora Ana Flávia Magalhães Pinto, na obra fundamental Escritos de Liberdade: Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil Oitocentista (Unicamp, 2018).
Também foi Ana Flávia Magalhães Pinto que registrou em seu livro Imprensa Negra no Brasil do Século XIX (Selo Negro, 2010), os primeiros “jornais feitos por negros; para negros; veiculando assuntos de interesse das populações negras”, como definiu a pesquisadora. Em comum também a postura de desafiar as tentativas de silenciamento.
Em 14 de setembro de 1833, foi publicado o primeiro jornal feito por pessoas negras no Brasil, o pasquim O Homem de Côr. Ainda sob o regime da escravidão, que somente seria abolida formalmente 55 anos depois, o jornal foi possível graças ao pioneirismo de Francisco de Paula Brito, ele próprio um “homem de cor”, proprietário da Tipografia Fluminense, que imprimiu o folheto noticioso.
Importante destacar que a imprensa brasileira se inicia somente em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, quando finalmente temos a publicação de livros e jornais em solo brasileiro. Apenas lentamente o Brasil passou a contar com bibliotecas, livrarias e publicações de periódicos, muitos concentrados nos temas da economia e das relações com o poder imperial. O que torna a publicação de um jornal abordando o debate racial e questões de interesse dos negros um feito ainda mais extraordinário.
Em meio a debates intensos que circulavam nos jornais da época, O Homem de Côr possibilitou a divulgação de ideias e reivindicações da população negra, formada por pessoas livres e libertas, que já constituía um contingente significativo àquela época.
Além de bradar pela cidadania dos “homens de cor”, o jornal denunciava os preconceitos e violências sofridas por pessoas negras e chegou a noticiar a prisão injusta de um homem preto por suposta vadiagem e porte de arma. Outro tema de relevância foi a ocupação de cargos públicos por “pessoas de cor” e a resistência das elites em respeitar o direito constitucional de cidadãos libertos cumprirem funções públicas, independentemente da cor, reivindicações que ganharam destaque em veículos negros posteriores (Santana, 2023).
Ainda no mesmo ano, 1833, entre setembro e novembro, outros periódicos desse segmento surgiriam, inspirados pelo pioneiro: Brasileiro Pardo, O Cabrito, O Crioulinho e O Lafuente (Pinto, 2010).
Demoraria 43 anos até que uma nova manifestação da imprensa negra surgisse. Foi apenas em 1876, no Recife, que começou a circular o jornal O Homem. Pouco depois serão as vezes de São Paulo, com A Pátria e O Progresso, ambos em 1899, e de Porto Alegre, com O Exemplo, de 1892. O periódico gaúcho teria a maior duração da imprensa negra até ali, sendo encerrado em 1930 por problemas financeiros.
A maioria das publicações teve vida curta. Em alguns casos, durando poucas edições ou não indo além do primeiro ano. Os custos para publicar um jornal eram altos e o pagamento se dava por meio de rateio entre os editores e os ativistas, se o jornal tivesse vínculo com alguma associação negra. Outros conseguiam verba com publicidade ou dependiam de assinaturas.
Exemplares desses jornais encontram-se no setor de Periódicos da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, mas podem, ainda, ser acessados na hemeroteca digital. No acervo, também estão dois veículos publicados na Bahia no século XIX, com pautas abolicionistas e preocupações com as condições dos negros: O Abolicionista — publicação quinzenal da Sociedade Libertadora Sete de Setembro, lançado em 1871, em Salvador — e O Asteroide: Orgam da Propaganda Abolicionista, publicado em Cachoeira, em 1887. Friso que esses dois jornais da Bahia são abolicionistas e não necessariamente se enquadram como “imprensa negra”, conforme definido por Ana Flávia Magalhães Pinto, ou seja, feitos por pessoas negras, para pessoas negras e com temas de interesse da população negra. Nos casos de O Abolicionista e O Asteroide, as publicações só se enquadram no último aspecto elencado.
O Abolicionista, que tinha o escritório localizado no Largo do Pelourinho, n.o 14, contou com a colaboração do escritor Antônio Frederico de Castro Alves (1847-1871), considerado o maior poeta baiano do Romantismo. Na edição de 30 de abril de 1971, o jornal publicou um poema do Poeta dos
Escravos, conclamando os leitores da sociedade baiana para a caridade, ou seja, para a doação financeira à principal missão da Sociedade Libertadora Sete de Setembro: “a remissão dos cativos por meio da compra de alforria”. O periódico também buscava “agitar a opinião, educando-a”.
Na edição de 31 de julho de 1871, o jornal O Abolicionista foi dedicado ao pesar pela morte do poeta abolicionista Castro Alves, ocorrida em 6 de julho daquele ano. O veículo também denunciou a crise na lavoura de algodão no Brasil por conta do fechamento dos mercados da Europa e da América do Norte para os gêneros provenientes dos “systemas de trabalho amaldiçoados por Deus e pela civilização”.
A pauta dos jornais negros e dos intelectuais e jornalistas negros que atuavam na imprensa do século XIX abordava o sistema econômico já desprezado em outras partes do mundo. Um ato de coragem que, após a conquista de 13 de maio de 1888, passou a ser direcionado a debater a inserção do negro, agora liberto, na sociedade.
No início do século XX, outras experiências de imprensa negra, sobretudo em São Paulo, proliferam, trazendo as reivindicações negras, associadas a grupos organizados, como a Frente Negra Brasileira, de 1931.
Com o escritor, artista plástico, político e ativista Abdias Nascimento (1914-2011) a imprensa negra ganha contornos ainda mais afirmativos. O jornal Quilombo: Vida, Problemas e Aspirações do Negro, editado entre 1948 e 1950, é expressão direta do Teatro Experimental do Negro e da luta por reconhecimento da dignidade negra. Sua proposta editorial articulava arte, cultura, política e denúncia do racismo, no contexto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada por diversas nações do mundo em 1948. Quilombo era o jornalismo a serviço de um projeto civilizatório negro.
A fundação do Movimento Negro Unificado (MNU), em 1978, impulsionou novas experiências de comunicação negra, agora mais diretamente ligadas à militância política contra o racismo. Jornais como Tição (1977), Objetivo (1977), Jornegro (1977), Negrice (1977), O Saci (1978), Vissungo (1979), Pixaim (1979), Nêgo (1981), revista Ébano (1981), Voz do Negro (1984), Elêmi (1985), Áfricas Gerais (1995), Irohin (1996) e a revista Raça (1996), um sucesso editorial ainda em circulação, registraram e
alimentaram a luta contra o mito da democracia racial.
Apesar das dificuldades financeiras e repressões políticas, esses periódicos construíram uma rede de circulação de ideias, saberes e estratégias de resistência, tendo a Bahia como importante centro aglutinador e dinamizador das lutas negras.
Somadas aos veículos jornalísticos estão as ações de comunicação do movimento negro organizado, como as imagens registradas, desde 1990, pelo acervo afrofotográfico Zumvi, do fotógrafo soteropolitano Lázaro Roberto, os Cadernos Negros (Quilombhoje) de poesias e contos publicados desde 1978, as cartilhas de educação dos blocos afro de Salvador, os manifestos, panfletos, livros, teses e muito conhecimento transmitido “por todos os meios necessários”, como aconselhou Malcolm X.
Mídias Negras Digitais no Século XXI
A virada digital abriu novos caminhos para o jornalismo negro. Experiências como Mundo Negro (2001), Irohin (2006), Afropress (2007), Correio Nagô (2008), Revista Afirmativa (2014), Alma Preta (2015), SoteroPreta (2016), Notícia Preta (2018), Afro TV (2020), Negrê (2020), entre outras iniciativas, consolidam um novo ecossistema de comunicação negra. Essas iniciativas combinam agilidade tecnológica, protagonismo editorial e compromisso ético com as lutas da população negra. Aliadas a coletivos de audiovisual, podcasts, blogs e redes sociais, constroem uma narrativa insurgente que desafia o epistemicídio e afirma o pensamento negro como fonte legítima de conhecimento.
A comunicação antirracista feita a partir dos anos 2000, com a popularização da internet e a criação de mídias digitais mais democráticas e acessíveis às comunidades, é resultado de um longo empenho da população negra em disputar essas ferramentas de produção de informação e conhecimento, por entender, desde sempre, a comunicação como um espaço de poder (Santana, 2021).
Os veículos jornalísticos digitais como o Correio Nagô, criado pelo Instituto Mídia Étnica em 2008, e as experiências de mídia negra já citadas dão continuidade a uma longa trajetória de luta por dignidade e respeito, agora com a visibilidade, alcance, amplitude e rapidez possibilitados pelo ambiente digital, que rompeu a barreira da centralidade do polo de emissão, permitindo uma lógica de produção mais coletiva, participativa e engajada.
Essas iniciativas de comunicação, que experimentam uma possibilidade de ampliação a partir do ciberespaço, encontram-se com o pensamento negro e afrodiaspórico ampliado pela presença de intelectuais de pele preta nas universidades brasileiras. As fontes para as produções dos discursos
comunicacionais, para as reportagens jornalísticas, para os argumentos das campanhas publicitárias, para as narrativas cinematográficas, para as imagens inspiradoras de memes e textões nas redes sociais são
legitimadas por uma rica produção artística, literária e acadêmica que provoca uma reação de insubordinação epistêmica e civilizatória (Santana, 2021).
Nesse sentido é exemplar a história de criação do Instituto Mídia Étnica, que aconteceu em Salvador, em 2005, quando a realidade da comunicação na Bahia, e no Brasil em geral, era muito menos diversa do que hoje. As campanhas publicitárias, seja nos intervalos da televisão, seja nos outdoors espalhados pela cidade mais negra fora do continente africano, não traziam os rostos da maioria da população. Como também não estavam nas histórias positivas contadas nos jornais, que concentravam as notícias relacionadas à população negra nas editorias de segurança ou em raros momentos das artes e do esporte, sempre adjetivada pela ideia de superação.
Eram raros os negros e negras ouvidos como fontes de reportagem sobre temas caros para a sociedade como política, economia, direito, ciências, tecnologias, entre outros.
Por isso foi criada uma organização que possibilitasse questionar coletivamente esse cenário, assim como propor novas formas de abordagem e de visibilidade para a luta travada pelo povo negro em
resistência ao racismo perpetrado nos meios de comunicação, pelas grandes empresas que violam cotidianamente o “direito humano à comunicação”.
O Instituto Mídia Étnica nasce, então, das bandeiras do movimento negro e das iniciativas pela democratização da comunicação, acreditando haver uma brecha entre estes dois campos que dificultava o conhecimento mais amplo da história da luta negra no Brasil. Uma ponte de visibilidade das ações das organizações negras, utilizando as potentes ferramentas das Tecnologias da Comunicação e da Informação.
Com o lema “Vamos Denegrir a Mídia”, os objetivos e metodologias do Instituto Mídia Étnica (IME) foram alicerçados nas práticas comunitárias, participativas e democráticas para promover debates, oficinas, formações, campanhas e produtos jornalísticos e audiovisuais.
Em meio às estratégias de combate ao racismo na mídia, que incluiu o monitoramento e a leitura crítica dos veículos hegemônicos e o assessoramento midiático às organizações do movimento negro, o
IME criou o portal Correio Nagô para desenvolver um trabalho colaborativo, de partilha dos conteúdos criados com a participação comunitária.
As primeiras experiências de construção do Correio Nagô, ainda em 2006, como um blog e uma comunidade no Nig que utilizava as principais ferramentas tecnológicas do período, permitiam a ampla colaboração dos membros na produção dos conteúdos e nas discussões em fóruns temáticos. Em 2008, o portal foi estruturado e lançado como um veículo multimídia, oferecendo conteúdo em formato de textos, fotos, ilustrações e vídeos, com uma redação própria, composta por jornalistas profissionais e
comunicadores em formação, além de contribuições de colaboradores.
O nome Correio Nagô vem de uma das formas de resistência dos primeiros negros escravizados, que transmitiam o conhecimento e a informação através da comunicação oral. Correio Nagô é a comunicação boca a boca entre os negros, desde sempre, entre a comunidade negra escravizada, sendo fundamental nas rebeliões, nos processos de luta de quilombos, nas diversas formas de insubmissão.
O Correio Nagô continua em atividade e foi inserido em outras plataformas digitais como o Facebook, Instagram, X (antigo Twitter) e Youtube. Destaca-se na produção de vídeos, disponibilizados em formato de matérias jornalísticas, entrevistas, documentários e com o programa Afro Feed, do gênero revista eletrônica. No canal TV Correio Nagô, no Youtube, estão disponíveis 400 vídeos, dos mais diversos temas de interesse das populações negras.
Toda essa articulação, da qual a comunicação antirracista é função estratégica, tem garantido uma transformação nas disputas por narrativas, como bem observou o poeta, escritor e jornalista Edson Cardoso: “Conseguimos diminuir drasticamente a adesão ao discurso colonial”. Essa frase, vinda de quem formou uma geração de comunicadores antirracistas e inspirou tantos outros ativistas e militantes, informando ao Brasil a causa negra nas páginas do jornal Irohin, serve para encorajar o futuro.
O cenário atual é de uma maior abordagem, tanto dos temas de interesse da população negra nas pautas jornalísticas quanto da presença de profissionais negros e negras nos veículos, inclusive na televisão baiana, como repórteres e também nas bancadas de apresentação.
O cenário atual é de uma maior abordagem, tanto dos temas de interesse da população negra nas pautas jornalísticas quanto da presença de profissionais negros e negras nos veículos, inclusive na televisão baiana, como repórteres e também nas bancadas de apresentação.
Infelizmente, essas experiências passadas ainda são pouco conhecidas, mesmo por profissionais da imprensa brasileira, e não são exploradas nos cursos de graduação em Comunicação no Brasil, ficando a cargo dos ativistas e das formações oferecidas por entidades antirracistas, como as que o Instituto de Mídia Étnica realizou até 2020.
Para a pesquisadora Aíla Cardoso, da Universidade Federal de Sergipe, que investigou a presença (e ausência) da imprensa negra nos currículos dos cursos de comunicação das universidades brasileiras, “a história do Jornalismo no Brasil é majoritariamente contada por uma perspectiva branca e europeia” (Cardoso, 2024).
É preciso reforçar que, a partir de 2003, o Brasil possui a Lei no 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e das culturas africana e afro-brasileira em todos os níveis educacionais. Os conteúdos abordados neste artigo podem integrar diversas disciplinas e temáticas transversais. O jornalismo negro não deve ser enxergado como um exercício do passado, acessado apenas em pesquisas memorialistas, pois sua atuação continua na atualidade.
No cenário contemporâneo, observa-se um avanço importante no debate público sobre o racismo, as desigualdades históricas e as múltiplas expressões da violência racial no Brasil. Movimentos sociais, intelectuais negros, coletivos de mídia e lideranças comunitárias têm ampliado a visibilidade das pautas antirracistas, exigindo da sociedade um compromisso efetivo com a equidade racial. Nesse contexto, é fundamental que todos os cidadãos e cidadãs e, em especial, os profissionais da comunicação, estejam imbuídos da responsabilidade de combater o racismo e todas as formas de discriminação, atuando de
forma crítica, comprometida e transformadora.
A imprensa negra, com sua longa tradição de engajamento político, produção de conhecimento e defesa intransigente da dignidade humana, oferece não apenas um acervo riquíssimo de conteúdos, mas também estratégias concretas e inspiração ética para a construção de um jornalismo cidadão, plural e comprometido com os direitos humanos. Reconhecer e incorporar essas experiências ao fazer jornalístico é não só uma forma de valorização da memória, mas também uma aposta concreta em um futuro mais justo, diverso e democrático.

*André Santana é jornalista, doutorando em Estudo de Linguagens pela Universidade do Estado da Bahia, co-fundador do “Instituto Mídia Étnica” e do portal “Correio Nagô”, colunista do UOL e pesquisador sobre Comunicação e Relações Raciais.
Nossas colunas contam com diferentes autores e colaboradores. As opiniões expostas nos textos não necessariamente refletem o posicionamento da Associação Bahiana de Imprensa (ABI)