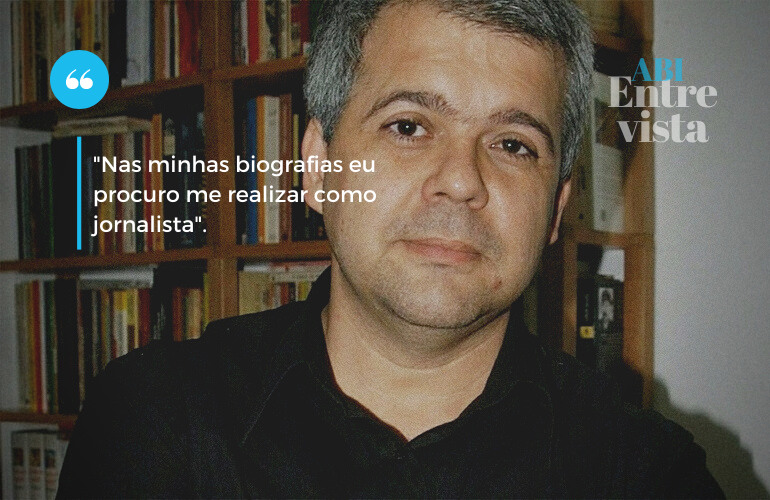Apurar, pesquisar, buscar fontes, passar um mês atrás de uma única informação. Depois, escrever e reescrever, pelo menos quatro vezes. Apesar do método rigoroso, Gonçalo Júnior pode se orgulhar de ter 40 obras publicadas e mais outras em gestação. O jornalista baiano – que já colaborou com diversos jornais e revistas e atualmente edita a revista Brasileiros – usa o método investigativo da área tanto na busca de informações, quanto na fase de escrita das suas biografias, obras pelas quais se consagrou.
Em sua carreira, ele já tratou dos mais diversos personagens: o ilustrador Alceu Penna; o empresário Herbert Richers; o quadrinista italiano Milo Manara; João Acácio Pereira da Costa, mais conhecido como o Bandido da Luz Vermelha. Sua última biografia publicada foi sobre o músico do choro, Jacob do Bandolim. Todos personagens bastante distintos, mas, para Gonçalo, uma coisa os une. “A minha escolha se dá por personagens que não tiveram ainda, na minha opinião, a devida atenção, mas que foram muito importantes na história”.
Com maior liberdade para escrever e publicar sob o selo de sua editora, a Noir, o pesquisador projeta uma “guinada” política em suas obras. Ele ressalta a importância de se estar atento ao contexto por trás das figuras comuns, “à margem do esquema”. Nesta segunda (25), ele irá compartilhar esse e outros conhecimentos adquiridos durante os mais de 20 anos de carreira na Oficina de Biografia, que ocorrerá das 9 às 12 horas no Salão Nobre do Gabinete Português de Leitura, em Salvador.
Em entrevista para a ABI, Gonçalo fala sobre suas expectativas para a oficina e compartilha alguns dos projetos que está produzindo.
Após todos esses livros publicados, você desenvolveu algum método quando começa a sua pesquisa?
Sem dúvida a gente acaba desenvolvendo uma metodologia, um esquema de produção depois de tanto tempo. Eu diria que é como o goleiro diante do gol: ele tem tanta prática no gol que não precisa ficar olhando para trás para saber em que posicionamento está na área; ele se orienta pelo quadrado em volta, pela grande área e procura estar sempre bem posicionado para pegar a bola. Eu acho que escrever é isso, a vida nos leva a isso. Claro, o ideal é ler bastante. Fazer uma biografia ou um livro de modo geral não é fácil, é sempre uma tortura, um tormento. Tem vários livros começados e não terminados, mas tem outros que engrenam rápido, como se você estivesse descendo uma ladeira.
E eu vou desenvolvendo meus métodos, por exemplo, faço um esboço, depois vou ampliando, vou acrescentando pesquisas de textos, entrevistas e aquilo vai crescendo. Chega a um ponto em que eu sento e começo a trabalhar o texto em si, que eu geralmente refaço seis, sete vezes. Imprimo e só depois eu vou ler como se fosse um leitor e aí consigo ter mais clareza, uma coisa mais visual, espacial e territorial da obra.
Quais cruzamentos você nota entre a carreira de biógrafo e a de jornalista? O que uma área agregou para a outra?
A relação entre biógrafo e jornalista, no meu caso, eu diria que é uma coisa bem pessoal. Talvez uma consequência do momento em que vive o jornalismo nos últimos 20 anos. O mercado mudou muito, o jornalismo encolheu bastante, ele perdeu aquela característica do jornalismo investigativo, do jornalismo menos comprometido, digamos assim. Nas minhas biografias eu procuro me realizar como jornalista, então tem personagens que exigem investigação, apuração, procurar em arquivos da ditadura, localizar pessoas. Não só no processo de apuração mas também na escrita em si, eu procuro sempre adotar um tipo de narrativa jornalística, da forma mais clara, imparcial e independente possível, colocando o máximo de fontes, não tomando partido de versões.
Às vezes eu coloco quatro, cinco versões de um mesmo caso, como na biografia do Bandido da Luz Vermelha, que eu coloquei o ponto de vista do próprio bandido, o ponto de vista da vítima, o ponto de vista da imprensa e por aí vai. Eu tento ser jornalista escrevendo biografias, é o que é possível fazer e é o que me satisfaz, porque são sempre coisas muito desafiadoras. Como eu falei na resposta anterior, você ter domínio de um corpo que é um livro, que é uma biografia, você saber onde estão as informações, como ela está sendo estruturada, isso acaba sendo desafiante e estimulante.
Como você separa a análise que faz em suas obras da admiração que sente pelas figuras biografadas?
É inegável que a gente sempre tem um interesse, uma afinidade pelo personagem, mas não quer dizer que a gente vire admirador. No caso do Bandido da Luz Vermelha o meu interesse foi mais por ser um personagem que foi importante na vida de São Paulo. Eu moro aqui há 24 anos. Gosto da cidade, gosto da história da cidade e sempre me impressionou muito o impacto que ele tem no imaginário popular. Depois do bandido, as mansões de São Paulo começaram a construir muros. Eu fiz um perfil bem diferente do que tem no filme (Gonçalo fechou contrato com a produtora RT Features, em 2019, para a adaptação da sua obra), que é uma coisa mais alegórica, mais fantasiosa, mais politizada. Acabei retratando um psicopata, um cara que estuprou mais de cem mulheres, um assassino frio e sanguinário, então o personagem vem mais do interesse histórico do que da preferência pessoal.
Mas não há algo de preferência pessoal na escolha das personagens?
Claro que tem personagens que eu me interesso, como Jacob do Bandolim, como Vadico, parceiro de Noel Rosa, como o cantor de música brega Edvaldo Braga. Rubem Alves eu não conhecia, foi uma biografia encomendada, mas que eu acabei me encantando pelo personagem porque ele foi muito importante historicamente. A minha escolha se dá por personagens que não tiveram ainda, na minha opinião, a devida atenção mas que foram muito importantes na história. Isso está acima do meu gosto pessoal.
Eu conheci dois editores que foram torturados, presos, censurados na ditadura militar. Contar a vida deles me permitiu contar a história da ditadura militar também sob o ponto de vista da censura. Não são personagens que eu escolho porque sou fã. Talvez o Jacob do Bandolim tenha sido o único com essa característica.
“A minha escolha se dá por personagens que não tiveram ainda, na minha opinião, a devida atenção mas que foram muito importantes na história. Isso está acima do meu gosto pessoal” – Gonçalo Júnior, escritor e jornalista
Você já trabalhou com zines, escreveu e roteirizou quadrinhos, já escreveu sobre erotismo nos quadrinhos, trabalha desde sempre com esse meio underground. O que te atrai para esses temas e formatos?
Eu cresci num meio que se diria underground, na Salvador dos anos 80. Eu atravessei a década de 80 fazendo fanzines, ouvindo rock, frequentando as lojinhas alternativas de Salvador: na Carlos Gomes, a Galeria do Tuiuti onde tinha a loja Coringa, o Orixás Center com as lojas de discos, a Mutantes num bequinho da 2 de Julho. Eu cresci num ambiente de trocar fanzines, de comprar discos, de trocar discos pelos Correios. E acabei me interessando mais por esse universo marginal, com personagens fantásticos, mas que não tiveram a merecida atenção da história, dos historiadores. É a história de tipos mais comuns que fazem com que a gente acabe contando um contexto mais amplo. Por exemplo, agora mesmo eu estou escrevendo sobre Celly Campello, que foi uma pioneira do rock nacional.
O rock nacional ainda não tem uma merecida história contada lá desde o seu início. Eu estou tentando tapar esse buraco. Nunca peguei personagens que já tinham quatro, cinco biografias; no máximo como Assis Valente, que tinha uma só. Mas são tipos marginais e fascinantes, personagens que têm muito o que contar dentro de um contexto, à margem do grande esquema. Eu vivo nesse mesmo esquema, à margem da coisa; nunca escrevi biografias para ganhar dinheiro nem nada. Eu faço biografias, como eu disse antes, pelo prazer de ser jornalista e pesquisar, porque as minhas contas eu pago com freelas, com coisas que eu faço em paralelo.
Vários dos seus livros são verdadeiros calhamaços, fruto de pesquisa extensiva e demorada. Quando você sente que terminou uma obra?
Essa coisa de fazer livros volumosos já me trouxe muito problema. Eu já passei por situações absurdas, de um editor contratar uma pessoa para reduzir um livro meu a um terço do tamanho, como aconteceu com o Bandido da Luz Vermelha. Como o contrato já estava vencido, eu mesmo publiquei pela minha editora, a Noir. Ela foi criada justamente para isso, para que eu pudesse escrever com liberdade e responsabilidade, sem ter que dar satisfação a ninguém.
Uma biografia vai te impondo desafios: pessoas que você precisa entrevistar e localizar, fontes, detalhes, dados. Às vezes você fica um mês tentando descobrir o número da casa onde a pessoa morou porque tem que informar aquele número para entregar uma coisa mais completa. Você perde muito tempo com isso. Só que chega um momento que eu leio aquilo ali e falo assim “bom, não está faltando mais nada”. Aí vou trabalhando o texto final. Como eu falei, faço quatro, cinco, seis vezes, reescrevo tudo. Nesse processo, se eu sentir que falta alguma coisa, vou atrás, se não, eu fico elaborando o texto, refazendo, melhorando. Tem a fase de apuração, tem a fase de escrita e tem a fase de aprimoramento do texto.
Em algumas entrevistas você teceu duras críticas ao mercado editorial brasileiro. Ainda assim, fundou uma editora própria, a Noir. Por que buscar competir nesse espaço, quando tanto se fala que no Brasil ninguém mais lê?
Não, eu não busco competir, não fundei uma editora especificamente para ser um empresário do meio. Eu fiz uma editora para fazer livros que me dêem prazer, meus livros e de outros. Só que isso exige malabarismos, jogo de cintura para você tocar um negócio. Nos três primeiros anos da Noir eu me empenhei muito em montar um esquema de distribuição, fazer contato com livrarias, com lojas virtuais; a Noir tem um esquema de distribuição que é melhor do que muitas grandes editoras por aí. Eu precisava montar esse alicerce para sobreviver nesse mercado altamente competitivo, mas eu não sou empresário do livro, do meio literário. Eu sou um editor que quer publicar coisas que gostaria de ver nas livrarias, sem ambição de ser um empresário e de competir com ninguém. Tanto que eu não participo de feiras, não inscrevo os livros da Noir em prêmio nenhum. Não condeno quem faz isso, é uma opção que escolhi, de ter liberdade para escrever, para publicar meus livros e fazer com que isso seja sustentável pelo menos.
Eu tenho uma boa relação com jornalistas que divulgam, que fazem matérias. Qual a editora que é feita por alguém absolutamente sozinho que consegue cinco capas do jornal O Globo, que consegue capa da Ilustrada, que consegue matéria de capa das revistas? Isso é um reconhecimento da qualidade do trabalho porque os caras se interessam pelo conteúdo.
“Eu sou um editor que quer publicar coisas que gostaria de ver nas livrarias”
Em uma entrevista para o jornal A Tarde você afirmou que está dando uma “guinada editorial para livros mais instigantes politicamente”. Existe alguma razão por trás disso? Tem algo a ver com o atual contexto brasileiro?
A minha guinada se deve em específico ao fato de eu não ter mais sócio. Eu tinha que respeitar a opinião dele e ele queria uma coisa mais de arte e eu sempre quis fazer uma coisa mais de política, porque esse é o tipo de jornalismo que me interessa, o jornalismo transformador, investigativo. Como ele saiu em outubro do ano passado, resolvi fazer coisas que, de certa forma, contribuam historicamente para o país, com temas mais politizados, digamos assim. Eu mesmo estou com um livro para publicar, que deve sair no começo do ano que vem, contando a história da Literarte, que foi uma livraria que capitalizou toda a esquerda da Bahia como foco de resistência à ditadura durante a abertura política, de 1978 a 1985. Foram ouvidas mais de noventa pessoas para esse livro, ele já está pronto. Era uma livraria de resistência na ditadura militar, em Salvador, ficava na Avenida 7. É um livro que me deu muito prazer e é um acerto de contas com minha adolescência, com meu passado, porque eu estudei no Colégio Águia, na praça da Piedade, fiz meu segundo grau todo lá. O colégio ficava a 100 metros da Liberdade, então eu, ainda moleque, comprava o jornal Planeta Diário lá, ficava fuçando as revistas.
Em dezembro, vou tentar lançar um livro com quase 20 entrevistas do cartunista Henfil, que foi um ícone de resistência na ditadura. Eu lancei um livro agora chamado “As bastardas de Deus”, que é um livro mostrando como as religiões, a Bíblia, o antigo e o novo testamento difundiram o ódio contra as mulheres, a violência contra as mulheres, até hoje muito presente. O livro foi escrito por ninguém menos que (o jornalista e escritor) Júlio Chiavenato, um ícone da historiografia brasileira, autor do livro “Genocídio Americano: a Guerra do Paraguai”, um livro dos anos 80 que desmistificou Duque de Caxias, mostrou ele fazendo atrocidades na Guerra.
É por aí que eu quero seguir mesmo e o momento pede isso. A gente passa por um momento de insanidade, de genocídio, de morte de 600 mil pessoas, com um psicopata governando o país. Eu acho que é o momento realmente para eu tomar algum tipo de posição, mesmo que solitária.
Quais os projetos que você tem na gaveta agora?
Tem vários. Como eu falei, estou bem adiantado com a biografia de Celly Campello. É uma experiência nova, uma vez que estou fazendo em parceria com um diretor de cinema, que tinha feito algumas entrevistas com Celly, conheceu ela. Mas ele está me dando muita liberdade, porque estou usando as entrevistas dele.
Eu tenho um livro sobre o kichute (marca de tênis infantil, muito popular na década de 70). Tenho planos de relançar alguns livros meus que estão esgotados e eu tenho o plano de, no ano que vem, começar a escrever a biografia de um torturador da ditadura. Já estou com um bom material pesquisado. Eu só posso dizer o título, mas o nome da pessoa eu prefiro não dizer; o livro vai se chamar “O deus da morte”.
Qual a sua expectativa para a Oficina de Biografia que será realizada no dia 25?
Estou com certa ansiedade porque é um curso que dei no Sesc de Campinas, teve 26 horas de duração e eu vou ter que apresentar em três. Na verdade eu vou instigar o pessoal, dar umas dicas. Primeiro, vou tentar entender o que levou as pessoas para lá, para ver como posso contribuir com cada um. Mas eu vou dar dicas, são três horas, não é um tempo desprezível, dá para a gente falar bastante, tirar dúvidas, (trocar) comentários, curiosidades e contribuir ou, pelo menos, estimular as pessoas que querem escrever a trilhar o caminho, a buscarem uma luz se for possível. Mas eu acho que vai ser legal.
Eu estou morrendo de curiosidade de entrar no Gabinete Português de Leitura. Aquilo ali para mim sempre foi uma referência, um templo da cultura erudita em Salvador.
*Larissa Costa, estudante de Jornalismo, estagiária da ABI.
Sob supervisão de Joseanne Guedes