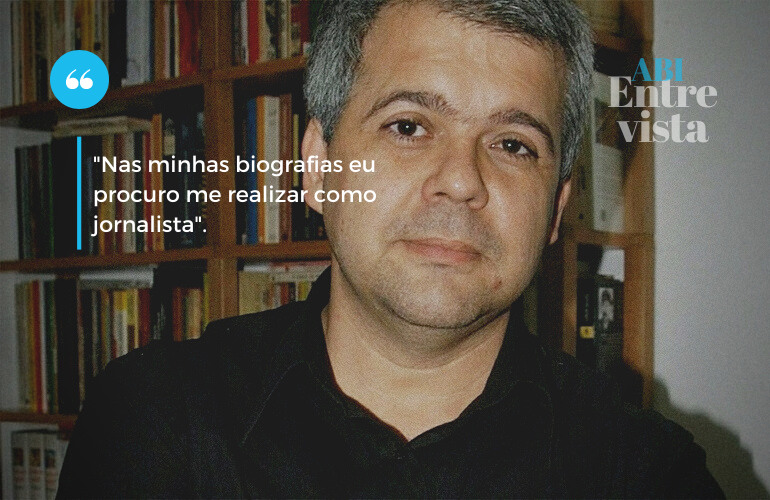O jornalista e pesquisador musical Marcelo Argôlo está tocando vários projetos no momento, mas todos têm uma coisa em comum: a música. Nesta entrevista à ABI, ele conta como sua paixão pela música orientou seu trabalho com a comunicação, reflete sobre a cena da música e lança críticas à cobertura jornalística da área cultural. Para o jornalista, não basta apenas escrever sobre o tema, é preciso saber se aprofundar. Com esse objetivo ele lançou o podcast “Pop Negro”, programa de entrevistas voltado à discussão da música preta na Bahia, produzido com o apoio da rede de projetos “Salvador Meu Amor”. O primeiro episódio, disponível nas plataformas de streaming (Ouça no Spotify), foi ao ar na última quinta (3) e recebeu o artista e produtor musical Mahal Pita.
O podcast é um desdobramento de sua atuação como pesquisador e da ampla experiência nas editorias de Cultura dos principais veículos baianos. Mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), seu estudo busca compreender a produção musical de artistas negros baianos que, através de sua música, estão engajados na luta antirracista. Parte da pesquisa tornou-se livro (Acesse o PDF aqui) e agora o podcast busca tocar nessas temáticas, trazendo a visão dos artistas sobre a própria produção musical.
Em sua atuação como jornalista, Marcelo desenvolveu a própria visão sobre qual o espaço da crítica musical hoje. “Eu quero ler sobre, ouvir o artista falando sobre o trabalho dele e refletir. Isso para o artista também é um lugar importante, que naquele tempo você possa sair um pouco das respostas padrões”, afirma.
Marcelo Argôlo trabalha como colunista de música no portal IBahia e no site Mix Me. Sua carreira começou no Jornal A Tarde, onde passou pelo Caderno 2+, da editoria de Cultura e também pela revista Muito. O jornalista parte para a área de rádio através da Educadora FM, onde trabalhou na produção musical do programa Especial das Seis. Colaborou também com publicações como a Revista Continente e com o site S.O.M. – Sistema Operacional da Música, projeto da Mídia NINJA. O trabalho com a música se amplia através de sua atuação como assessor de imprensa do NEOJIBA e como jornalista na Agência LK, onde trabalhou com clientes como a Prefeitura de Cairu, o projeto Acústicos no MAM e a produtora Oquei Entretenimento.
Confira!
Em que momento de sua atuação como pesquisador e como jornalista você passa a se debruçar mais sobre a música?
Na verdade, foi o contrário. Meu interesse pela música me levou para o jornalismo. Eu fui um adolescente que esteve em bandas de colégio, que tinha um envolvimento muito grande com a música, mas não me via como um músico. Ainda na adolescência fui descobrindo a área do “jornalismo musical”, de Ruy Castro, Ana Maria Bahiana, alguns jornalistas que são referências nesse movimento da crítica musical. Foi aí que eu me atinei que o jornalismo poderia ser uma possibilidade de trabalhar na música sem ser músico. Desde o início, eu tinha esse foco de trabalhar com o jornalismo musical. Ainda na faculdade eu estagiei no Caderno 2 do Jornal A Tarde, depois estagiei na produção musical da [Rádio] Educadora FM. Quando eu me formei, trabalhei na assessoria de comunicação do Neojiba e trabalhei depois na Agência LK, também com assessoria de imprensa, mas com foco em projetos e clientes da área da música. Em paralelo a esses trabalhos, eu fazia trabalhos de comunicação de um modo mais amplo com artistas e bandas daqui da cidade. Trabalhei com a banda Pirombeira, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo para o primeiro disco da banda, que inclusive teve uma indicação ao Grammy Latino pelo projeto gráfico. Em 2019, voltei minha atenção para esse lado de pesquisador, mas um pesquisador que não se desvincula muito da atuação como jornalista. Optei por um trabalho de campo, de entrevista, de análise cultural também. Tem muito do meu repertório como jornalista, desses contatos que eu fui criando nos anos de atuação como jornalista. Esse trabalho de pesquisa resultou no meu livro que é o “Pop Negro SSA – Cenas Musicais, Cultura Pop e Negritude”. Ali tem meu lado mais pesquisador, mas também desenvolvendo um texto que não tenha aquela dureza do texto acadêmico. Agora, estou com esse podcast que é uma continuação do trabalho de pesquisa.
Quando você fala em Pop Negro, quais nuances esse estilo ganha quando interpretado por artistas negros baianos?
A construção do pop não é regional. O pop é uma música que soa universal. Quando você está buscando construir uma linguagem pop, é impossível você se desvencilhar da música do seu local, por mais que você tente soar americano. Um bom exemplo é a Anitta. Ela é uma artista pop que tem uma carreira muito consolidada e que, desde o ano passado, vem construindo esse espaço nos Estados Unidos; a diferença de linguagem é que ela parte do funk carioca. Pensando nos artistas de Salvador, o que eles têm de peculiar é sempre trabalhar a partir dos ritmos daqui. Então eles partem do Ijexá, partem do samba reggae, do samba afro, dessas musicalidades que são construídas e geram identificação e identidade para a Bahia, mas fazendo isso numa linguagem pop. É buscar construir um som que, mesmo que esteja tocando um ritmo regional, baiano, soe de um jeito amigável e conhecido para ouvidos do mundo inteiro. Quando você ouve aqueles sons que caracterizam essas bandas, como a cantora Larissa Luz, eles são construídos em computadores nos mesmos softwares, nos mesmos equipamentos que a equipe de Lady Gaga, de Rihanna. O grave do BaianaSystem é o mesmo grave de Beyoncé.
Não há aí o perigo de uma homogeneização?
É um lugar de tensionamento mesmo, não é uma via de mão única. Tem um episódio clássico da música brasileira nos anos 60 que é a marcha contra a guitarra elétrica, liderada por Elis Regina, para que a guitarra elétrica não fizesse parte da música brasileira. O que vemos com quase sessenta anos desse episódio, é que houve um momento de reprodução da música que vinha junto com a guitarra elétrica, mas houve também o surgimento de outros movimentos, estritamente brasileiros, como a guitarrada do Pará. Essa tentativa de buscar o purismo não se comprova quando olhamos historicamente. Nós temos um instrumento muito característico da música do Recôncavo baiano que é a viola machete, um instrumento português que chega no Brasil Colônia e é apropriado pelos negros escravizados nas suas formas de expressão artística. Esse movimento de incorporar o que se chega de fora em algo brasileiro é bastante presente. Estava presente na semana de 22 e foi uma marca do Tropicalismo. Esse medo da homogeneização, que uma cultura de fora chegue e substitua a cultura local, é mais uma tentativa de congelar a tradição num determinado momento. Mas, antes mesmo desse momento, ela já sofreu várias interferências, incorporações.
Quais são as rupturas provocadas por esses artistas que mais te chamam a atenção?
Não são rupturas no sentido de abandonar o que foi feito e passar a fazer algo diferente, mas de transformar, de atualizar o que vem sendo feito. A principal referência dessa cena que eu estudo, que eu tenho chamado de cena de música pop baiana, são os blocos afro, também do ponto de vista do conteúdo, de trazer as temáticas e as pautas antirracistas para dentro da música e na musicalidade. Nos blocos afro que vão buscar esses toques, do samba reggae, o samba afro, são toques do Muzenza e que vêm dos terreiros de Candomblé. Se a gente for puxando para trás, a principal matriz é o terreiro, que tem mantido essa musicalidade afro diaspórica brasileira viva. O que eu percebo é que tem acréscimo e não exatamente rupturas, pensando na sonoridade, na musicalidade, tem essa questão da transposição da música, e pensando do lado do conteúdo se consegue perceber um lugar da mulher negra se colocando de modo mais específico. Identificando que há uma uma tendência do movimento negro em tratar o homem negro como referência e pensar que tem questões que são da mulher negra. É esse trabalho que Larissa Luz faz, que Josyara faz, Luedji Luna faz, que se percebe de forma muito superficial no movimento dos blocos afros e que aparece com mais centralidade nessa cena que eu observo.
Em sua pesquisa, você traça uma tríade entre as práticas musicais, o ativismo negro e a cidade. O que surge como efeito desses fatores? Como fica o artista nessa relação?
O resultado disso é o artista. O BaianaSystem não seria a mesma banda que é, se não estivesse em Salvador. É justamente essa vivência na cidade, tanto do seu ponto de vista cultural e simbólico, quanto do ponto de vista geográfico e cívico, que me interessa. É perceber que se os músicos baianos não crescessem ouvindo guitarra baiana, reggae, Olodum, não seriam o que são. Não consigo separar o objeto da análise; não é dizer “isso é da música, isso é da negritude, isso é da cidade”, porque é indissociável esse imbricamento desses três fatores. Por que o BaianaSystem resolve fazer pagodão, trabalhar com o arrastado, misturar arrastado com música eletrônica, misturar reggae com música eletrônica? Ele está sempre partindo dessa musicalidade que de alguma forma é uma das possibilidades de construção da identidade da cidade. Tanto que uma das grandes influências da banda é a Nação Zumbi, de Pernambuco, mas musicalmente eles são muito distintos.
Pela sua atuação no segmento, como você avalia hoje a cobertura cultural feita nos jornais, principalmente no segmento musical?
Temos sempre essa crítica de que a cobertura hoje é muito focada em agenda, o que é uma tentativa de aproximar o jornalismo cultural do hard news. No jornalismo cultural isso tem o seu lugar, essa cobertura de agenda é importante, tem uma função, mas é um tanto quanto limitante. Pensando nas contribuições que o jornalismo cultural, e o jornalismo musical mais específico, podem dar para a sociedade, apenas a cobertura de agenda para dizer o que que vai acontecer e algumas coberturas de eventos ficam num lugar muito raso. Nós poderíamos nos aprofundar um pouco mais, trazendo críticas de lançamentos, fazendo um jornalismo mais de opinião, mesmo que de fato a gente tenha poucos espaços. Recentemente, em janeiro, eu comecei uma coluna no IBahia que tem esse intuito de ser um trabalho mais analítico, mais de opinião e também de apresentar novos nomes. Tem esses dois lugares, de descobrir novos talentos e de avaliar e analisar as produções musicais, que é o que o jornalismo cultural pode fazer a mais. Até como profissional, eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar publicações assim na cidade.
O que seu podcast busca trazer de diferente para o público?
Inicialmente, esse é um dos espaços que sobra. A ideia é discutir e falar da música, ter esse tom de entrevista pingue-pongue, com questões envolvidas nessa relação com a cidade, com a negritude, com o ativismo político dentro da música a partir da visão dos artistas. E confrontar um pouco as minhas percepções desse movimento com a visão do artista. Eu escolhi fazer entrevistas um a um porque acho que dá para aprofundar melhor a discussão do que fazer uma mesa redonda. Eu queria mesmo era falar de cada um mais aprofundadamente. Queria ter Mahal Pita ali comigo e ficar meia hora conversando sobre o trabalho dele. Eu quero ler sobre, ouvir o artista falando sobre o trabalho dele e refletir. Isso para o artista também é um lugar importante, que naquele tempo você possa sair um pouco das respostas padrões.
Se você pudesse entrevistar qualquer artista, quem seria?
Gilberto Gil. Com certeza.
Nesse caso, você seria um fã. São os fãs que mais buscam seu conteúdo?
Em termos de estratégia o que eu estou buscando é isso, tentar entender o que o fã gosta de saber, mas não no sentido da curiosidade e sim no sentido da informação, do aprofundamento. Talvez isso não funcione com qualquer artista. Por exemplo, não sei se funcionaria com os fãs de Ivete Sangalo, que não é uma artista que tem grandes aprofundamentos em discussões. Mas funcionaria com o fã de Daniela Mercury, que já é uma artista que tem. Também é tentar entender um pouco esse lugar e jogar com o interesse do público, com o jornalista e com o fã e construir uma mediação com esses valores que, às vezes, são colocados em lugares opostos. Tem mais um ponto, que é o de que o artista não precisa mais [do jornalismo]. Depois das redes sociais, eles passaram a ter os seus próprios canais de produção de conteúdo para sua base. O jornalismo ocupava esse lugar, um fã de Beatles nos anos setenta, queria saber sobre o disco que acabou de sair, tinha que recorrer a imprensa porque não tinha um espaço direto. A partir dos anos 2000 essa configuração do mercado da música vai mudando e o jornalismo perde um pouco esse lugar de centralidade, esse controle dos canais. Até hoje o jornalismo, o jornalismo musical, não achou uma forma de se reinventar.
E o que você faz hoje para disputar esse espaço?
Me pergunto todo dia isso: “o que é que eu posso oferecer?”. Pensando de uma forma mais técnica mesmo. A gente tem um contexto em que o jornalismo produzido circula no meio de uma confusão de informações e a gente não pode fugir daquelas regras básicas da precisão, da informação objetiva, direta, o contraponto. BaianaSystem está aqui, mas com essa relação da banda com Nação Zumbi eu posso produzir um conteúdo que talvez eles não vão produzir. Por exemplo, na conversa com o Mahal, ele conta para mim como percebeu que era possível fazer pagode eletrônico. Eu posso fazer essa mesma pergunta para Rafa Dias, do Àttooxxá, e depois para outro artista que está fazendo esse mesmo processo. É um exercício de sair do fluxo mais direto, de sair desse lugar da cobertura de agenda de lançamentos de eventos. Não precisamos necessariamente disso, eu não quero saber onde vão fazer shows, quero saber quais shows terão na cidade. Aí eu tenho esse espaço, que sempre vai existir, do jornalismo bem feito, a informação bem apurada, bem apresentada. Não há reinvenção da roda. É basicamente fazer o jornalismo mais bem feito possível, que eu acredito que possa ser a diferença.
O que ocorre com o jornalismo hoje que impede esse aprofundamento?
Isso é uma questão que eu reflito. Por que é tão difícil conseguir emplacar essas pautas? A gente sempre acaba caindo no lugar do “porque não dá clique, não dá audiência”, mas esse lugar da audiência também é negociável. Temos hoje uma dificuldade de gerar audiência para esse tipo de conteúdo mais aprofundado. A gente tem um contexto de informações abundantes e rápidas na vida dos nossos leitores, telespectadores, ouvintes, usuários de redes sociais. Indo para o lado do audiovisual, a gente vive um momento de crescimento das séries. Produtoras audiovisuais têm apostado em conteúdos mais longos, divididos em séries, do que em filmes que se resolvem em uma hora e meia. O que falta para o jornalismo é tentar entender quais são as motivações que fazem o público procurar um conteúdo seriado e tentar aplicar isso para fugir um pouco desse conteúdo mais rápido. Não estou dizendo que a gente devia abandonar o conteúdo rápido – rápido tanto do ponto de vista da produção quanto do consumo. Falta um esforço do jornalismo mainstream, das empresas de jornalismo em tentar entender como despertar esse interesse, que leva o mesmo público que consome conteúdos rápidos a consumir as séries da Netflix. Essa equação tem que ser resolvida, porque não me convence o argumento de que o público não quer ler.
Quais outros projetos você está tocando no momento?
Desde setembro, estou trabalhando em um site de música e cultura pop chamado Mix Me. Meu trabalho é justamente fazer esse tensionamento entre a cobertura mais rápida e trazer esse usuário para dentro do nosso site, oferecer um conteúdo bem feito, bem apurado, com as informações precisas. Eu tenho um projeto que está engatilhado, mas que eu ainda preciso ampliar a minha base de público, que é o lançamento da segunda edição do livro. Tenho mais capítulos da dissertação de mestrado que não estão no livro. Seria uma terceira parte do livro com mais análise, comigo, enquanto analista, observador, percebendo como é que esses artistas estão articulando cultura pop e negritude e as práticas musicais. Tem esse projeto, mas falta o recurso para ele sair. Pensei em fazer financiamento coletivo, mas o valor é um pouco mais alto do que uma campanha média. Então, eu precisaria de uma base um pouco maior do que tenho hoje. O podcast também tem esse objetivo indireto, de conseguir angariar possíveis futuros leitores da edição impressa do livro.